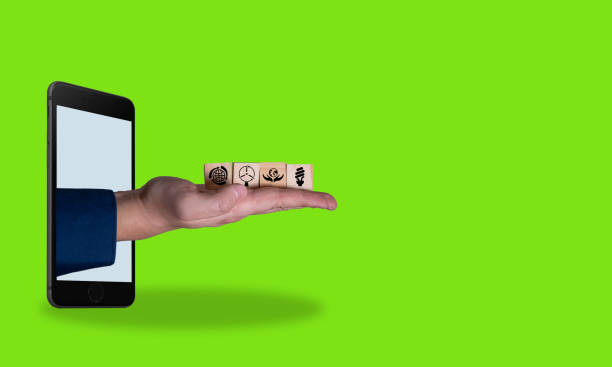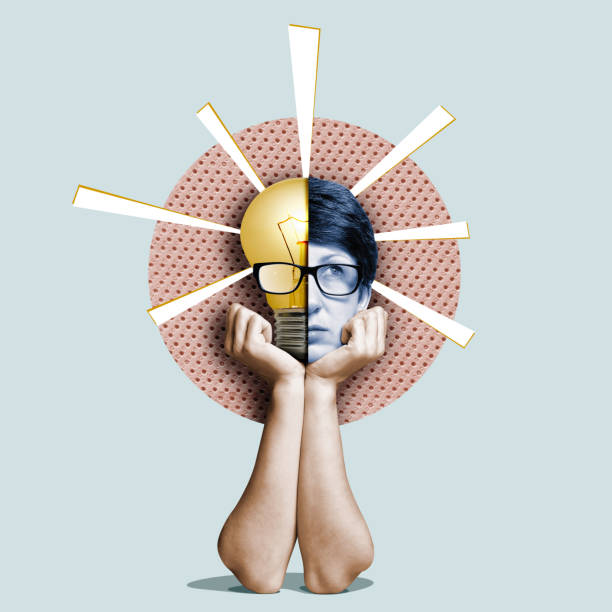Apenas dois em cada dez profissionais se sentem realizados em seus empregos. O dado vem de um estudo global da HP em parceria com a Edelman, e deveria incomodar mais do que incomoda. Não estamos falando de uma minoria insatisfeita. Estamos falando de 80% da força de trabalho que acorda todos os dias para fazer algo que não faz sentido, ou que faz sentido, mas custa caro demais.
O mesmo estudo revelou que 71% dos entrevistados sentem que as exigências se intensificaram no último ano. E 68% gostariam de trabalhar menos no escritório. Não por preguiça, por esgotamento. Por uma sensação difusa, mas persistente, de que o trabalho tomou uma proporção que não cabe mais na vida. Há quem olhe para esses números e enxergue uma geração frágil. Eu olho e enxergo um modelo de trabalho que já não se sustenta.
O discurso corporativo costuma tratar a insatisfação como problema individual. Falta de propósito, desalinhamento de valores, baixa resiliência. Se o profissional está insatisfeito, talvez precise de coaching, de um plano de carreira mais claro, de mais “ownership” sobre sua jornada. Mas os dados contam outra história, e ela é menos confortável para quem lidera.
No Censo de Saúde Mental da Vittude 2025, analisamos mais de 170 mil trabalhadores de grandes empresas brasileiras. O que encontramos foi um padrão claro e repetido: a forma como o trabalho está organizado está adoecendo as pessoas. Não de forma acidental, de forma estrutural.
O Censo utiliza dois modelos teóricos consolidados internacionalmente para medir o que chamamos de ergonomia cognitiva: o modelo Demanda-Controle de Karasek e o modelo Esforço-Recompensa de Siegrist. Juntos, eles explicam como a organização do trabalho afeta diretamente a saúde mental. A demanda, que mede exigências cognitivas, emocionais e volume de trabalho, apresentou score de -0,42. O esforço ficou em -0,47. Em uma escala que vai de -1 (crítico) a +1 (excelente), esses números indicam que, em muitos contextos, o ritmo e as exigências estão acima da capacidade de recuperação.
Por outro lado, controle (0,57) e recompensa (0,59) aparecem em território positivo, o que resulta em um índice agregado de ergonomia cognitiva de 0,13, um equilíbrio funcional, ainda que frágil. O cenário não é de crise generalizada, mas de tensão latente: a sobrecarga existe e está concentrada em determinadas áreas, níveis hierárquicos e perfis de trabalho.
Isso significa que há empresas e equipes operando em condições saudáveis, e outras onde o esforço supera consistentemente a recompensa, a autonomia é baixa e o ritmo não permite recuperação. Quando esse desequilíbrio se instala, o resultado é conhecido: esgotamento, perda de motivação, queda de desempenho, saída voluntária. Ou pior: permanência silenciosa, com entrega mínima e sofrimento máximo. O índice geral positivo não deve servir de conforto. Deve servir de mapa: há bolsões de risco que precisam ser identificados e tratados antes que contaminem o restante da organização.
O medo que corrói por dentro
Se a ergonomia cognitiva mostra um equilíbrio tenso, mas funcional, o mesmo não se pode dizer da segurança psicológica. Aqui, o dado é mais grave, e mais urgente. O Censo revelou que 45% dos trabalhadores atuam em condições de insegurança psicológica. Quase metade da força de trabalho não se sente segura para discordar, pedir ajuda, assumir riscos ou admitir erros sem medo de punição ou julgamento.
Esse é o tipo de problema que não aparece em dashboards de produtividade. Ele se esconde na reunião em que ninguém discorda do chefe. No erro que é encoberto em vez de discutido. Na ideia que morre antes de ser apresentada porque “não vale o risco”. Na exaustão de quem performa constantemente uma versão editada de si mesmo para sobreviver no ambiente.
E o custo é alto. Ambientes psicologicamente inseguros não apenas adoecem, eles paralisam. A inovação exige risco, e ninguém arrisca onde o erro é punido. A criatividade exige exposição, e ninguém se expõe onde a vulnerabilidade é usada contra você. A colaboração exige confiança, e confiança não sobrevive ao medo.
Onde a insegurança psicológica é alta, o sofrimento psíquico aumenta, o presenteísmo dispara e o engajamento despenca. O trabalhador está ali, mas não está inteiro. Entrega o mínimo necessário para não ser notado, nem para o bem, nem para o mal. É a pior forma de presença: o corpo que comparece enquanto a mente se protege.
O inverso também é verdadeiro, e talvez seja o dado mais importante do Censo: nas empresas onde a segurança psicológica é alta, o burnout é praticamente inexistente. Entre os 29% de trabalhadores que reportaram alta segurança psicológica, a prevalência de propensão ao burnout foi zero. Não é força de expressão, e sim evidência.
Isso muda completamente a conversa. Burnout não é apenas consequência de volume de trabalho. É, principalmente, resultado de ambientes onde reina o medo: medo de errar, de falar, de discordar, de pedir ajuda. A síndrome não nasce do excesso de tarefas, mas da impossibilidade de ser humano enquanto trabalha. Empresas que tratam segurança psicológica como tema “soft” estão ignorando o fator com maior poder de proteção, ou destruição, da saúde mental das suas equipes.
O presenteísmo invisível
Enquanto muitas empresas ainda medem sucesso por horas trabalhadas, um terço da capacidade produtiva está sendo desperdiçada todos os dias.
O presenteísmo médio identificado no Censo foi de 32%. Isso significa que, em média, os trabalhadores estão presentes, mas não estão bem. Estão cumprindo horário, respondendo e-mails, participando de reuniões, entregando demandas. Mas operando muito abaixo do que poderiam se estivessem saudáveis.
É um custo invisível que não aparece no balanço, mas corrói a produtividade real. Diferente do absenteísmo, que é fácil de medir e justificar, o presenteísmo passa despercebido. A pessoa está lá, mas seu corpo chegou sem a mente. Ou a mente chegou sem energia. Ou ambos chegaram carregando um peso que ninguém vê. Esse é o paradoxo das organizações que priorizam presença em vez de condições: ganham corpos, mas perdem potência. E frequentemente culpam os mesmos corpos por não renderem o esperado.
Até pouco tempo atrás, ignorar esses fatores era uma escolha gerencial. Desconfortável, talvez, mas legal. A partir de maio de 2026, será uma infração. A atualização da NR-1 passou a exigir que as empresas identifiquem, documentem e gerenciem riscos psicossociais, incluindo carga cognitiva, pressão temporal, baixa autonomia e demandas emocionais intensas. O que antes era tratado como “clima organizacional” agora é reconhecido como risco ocupacional, no mesmo patamar de ruído, calor ou agentes biológicos.
Não se trata de uma sugestão, é obrigação legal. Empresas que não mapearem esses riscos, não documentarem suas análises e não implementarem medidas de controle estarão sujeitas a sanções. Mais do que isso: estarão perdendo talentos, desperdiçando produtividade e cultivando ambientes que, cedo ou tarde, cobram a conta.
A boa notícia é que existe caminho. Instrumentos como o Censo de Saúde Mental já permitem mapear esses fatores com rigor técnico, escala populacional e indicadores comparativos. O diagnóstico está disponível, e o que falta, em muitos casos, é vontade de olhar.
A insatisfação no trabalho não é mimimi de geração, não é falta de gratidão, e não é problema de quem “não aguenta pressão”. É o resultado previsível de um modelo de organização do trabalho que exige demais e devolve de menos. Que pune o erro e silencia o desconforto. Que mede presença, mas ignora presença real. Que fala de pessoas, mas gerencia planilhas. Dois em cada dez se sentem realizados. Os outros oito não estão pedindo regalias, estão pedindo condições mínimas para trabalhar sem adoecer. A pergunta que fica não é se as empresas vão precisar mudar, é quando vão decidir começar.